Por Francisco Christovam – presidente da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss)
A participação mais efetiva das empresas privadas na operação dos transportes coletivos urbanos de passageiros, no Brasil, data do começo do século passado. Desde o início, o transporte de passageiros, principalmente nas cidades de médio e grande portes, dependia de uma autorização dos representantes do poder executivo para que as empresas privadas pudessem assumir a responsabilidade pelo deslocamento da população, mediante a cobrança de tarifas, cujos valores deveriam cobrir, plenamente, os custos fixos, os custos variáveis, os tributos e a remuneração de todo o investimento necessário à prestação dos serviços.
Foi durante a Era Vargas (1930-1945) que o Estado passou a atuar de forma mais presente na contratação de empresas de ônibus e várias cidades brasileiras optaram por criar empresas públicas, fosse para realizar a operação dos serviços de transporte ou para contratar as empresas privadas para, em seu nome, cuidar da prestação desse serviço público, que sempre foi essencial e fundamental para a estruturação do espaço urbano e para o bom funcionamento das cidades.
Um bom exemplo dessa política foi a criação, em São Paulo, da Companhia Municipal de Transportes Coletivos – CMTC, fundada em 1947, com o propósito de assumir os serviços de transporte realizados por 730 bondes, operados pela “The São Paulo Tramway, Light and Power Company”, bem como operar uma frota de 770 ônibus, a maioria proveniente de empresas privadas que foram encampadas pela nova companhia.
Com o passar do tempo, as autorizações e as permissões dadas às empresas privadas, sempre em caráter precário, foram dando lugar às concessões, cujos contratos deveriam ser precedidos de licitação pública e conter cláusulas especificas para disciplinar a prestação de um serviço público por uma empresa da iniciativa privada, com destaque para a delimitação do objeto, prazo de vigência, forma da prestação do serviço, critérios de remuneração, regras quanto à fiscalização, reversão e encampação, sendo nestas fixadas as formas para eventual indenização.
Para a realização dos serviços permitidos ou concedidos, as empresas privadas precisam contar com as instalações fixas (oficinas, pátios, almoxarifados e escritórios), com uma frota de ônibus e com a mão de obra necessária. A remuneração pelo serviço prestado deve considerar os custos operacionais (pessoal, combustível, rodagem e peças de reposição), a depreciação das instalações, dos equipamentos e dos veículos e a remuneração do capital investido. Esse modelo de contratação e de remuneração vem sendo praticado, na grande maioria dos contratos, em quase todas as cidades brasileiras.
Mas, com base na experiência de algumas cidades como Karachi, Peshawar, Shenzhen, Guangzhou, Jacarta, Singapura, Cidade do Cabo, entre outras, o modelo tradicional começou a ser questionado e o tema passou a ser discutido por vários especialistas que atuam no setor. O modelo londrino, por exemplo, considerou a aquisição da frota – para o ônibus double-decker – pelo poder público e a operação dos serviços pelo setor privado. Dessa forma, todo o investimento no material rodante é de responsabilidade do poder concedente, cabendo às empresas privadas apenas a operação das linhas e a manutenção dos veículos. Em artigo publicado na Revista da ANTP, sob o título “Os ônibus de Londres: estudo de um caso notável”, Cláudio Senna Frederico e Arnaldo Luís Santos Pereira detalham as características do transporte por ônibus em Londres. Vide: http://files.antp.org.br/2019/4/10/rtp151-5.pdf.
Na América do Sul, as cidades de Santiago e Bogotá, com a substituição da frota de ônibus diesel por veículos elétricos, já vem praticando esse novo modelo de contratação. Em Santiago, foi criada uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, cujos sócios são as concessionárias de energia e investidores privados, para a aquisição dos veículos. Em Bogotá, também foi criada uma SPE, cujos sócios são instituições financeiras e investidores privados, com a participação dos operadores, para a mesma finalidade.
Em ambos os casos, as SPE’s compram e disponibilizam os veículos, baterias e energia de tração, enquanto as empresas operadoras ficam responsáveis pelo emprego da mão de obra (motoristas, mecânicos, agentes de operação e pessoal administrativo), manutenção de primeiro nível (limpeza, lubrificação, troca de pneus e pequenos reparos), bem como pelo cumprimento da programação e realização da operação, propriamente dita, das linhas.
Aqui no Brasil, esse modelo de contratação já existe há algum tempo e, quando o investimento é feito pelo poder público, tem-se a denominada “operação de frota pública”. Por ocasião da “privatização” da CMTC, em 1994, a São Paulo Transporte S/A – SPTrans, sucessora da CMTC, manteve a propriedade de 430 trólebus e, mediante licitação pública, contratou a operação e a manutenção da frota com empresas privadas. Esse modelo de contratação continua sendo praticado para a operação de mais de 200 trólebus, na cidade de São Paulo. Além disso, desde 2014, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO adquire os ônibus e, mediante licitação, contrata somente a operação e a manutenção dos veículos que realizam os deslocamentos dos passageiros entre os terminais e as aeronaves estacionadas nos pátios.
Essa modelagem volta a ser praticada, com mais intensidade, no setor do transporte coletivo urbano de passageiros. A cidade de São José dos Campos já adquiriu 12 ônibus articulados elétricos e anunciou a aquisição de uma frota, que pode variar de 350 a 437 ônibus elétricos, do tipo Padron, para serem operados por empresas privadas, cuja contratação deverá ser feita por licitação pública. A cidade do Rio de Janeiro lançou, recentemente, um processo licitatório para a aquisição de 557 novos ônibus articulados, que deverão ser operados, também, pela iniciativa privada, no seu sistema BRT. Ainda no modelo de operação de frota pública, os governos estaduais de Goiás e da Bahia acabam de anunciar a intenção de adquirir 114 e 20 ônibus elétricos, respectivamente, cuja operação deverá ser feita, também, por empresas privadas.
Em São Paulo, por força da Lei Municipal Nº 16.802/18, as empresas concessionárias de transporte estudam a substituição de ônibus movidos a óleo diesel por veículos menos poluentes a analisam propostas de fabricantes de veículos e de empresas concessionárias de energia elétrica que se dispõem a financiar, locar (leasing) ou mesmo fornecer os veículos, seja para as próprias operadoras ou diretamente para a Municipalidade.

O modelo em si não apresenta grandes novidades ou mesmo algum tipo de economia na produção dos serviços de transporte coletivo de passageiros, uma vez que a remuneração dos investimentos deverá ocorrer, independentemente de quem faz tais investimentos. Em outras palavras, os recursos necessários à aquisição do material rodante deverão ser remunerados, não importa se o investidor é o operador concessionário ou um fundo internacional de alocação de capital financeiro. É extremamente importante considerar que a parcela referente ao “CAPEX” sempre estará presente na formação do custo da prestação dos serviços, quaisquer que sejam as fontes de financiamento da frota.
Mas, há duas questões de natureza jurídico-econômica, extremamente relevantes, que precisam ser consideradas quando se discute esse novo modelo de contratação. De um lado, o poder concedente não deve considerar, sob nenhuma hipótese, os investimentos em material rodante, com recursos obtidos de terceiros, como recurso a fundo perdido. Se assim for, qualquer comparação entre o custo da prestação dos serviços, no modelo atual e no novo modelo, fica distorcida e sem nenhum sentido.
Por outro lado, as atuais empresas operadoras devem analisar a conveniência e oportunidade desse novo modelo de negócio que, na essência, significa mudar da condição de concessionárias, cujos contratos de concessão têm prazo de vigência compatível com o tempo necessário para a amortização dos investimentos, realizados em equipamentos, instalações e veículos, para simples prestadoras de serviços, cujos contratos têm uma duração que não deve ultrapassar 5 anos, observados os prazos delimitados pela legislação aplicável, a exemplo das disposições contidas nas Leis Federais Nº 8.666/93, Nº 8.987/95 e Nº 14.133/21.
Vale ressaltar, ainda, que nos termos da legislação vigente, é possível a prorrogação de contratos de prestação de serviços de execução continuada, desde que haja justificativa, devidamente comprovada, quanto à conveniência e interesse público do órgão contratante.
Os tradicionais contratos de concessão podem e devem ser modernizados, principalmente, para atender às novas exigências dos clientes do transporte coletivo urbano de passageiros, para permitir maior flexibilidade gerencial e garantir o cumprimento das políticas públicas definidas pelo poder concedente, bem como para conferir maior segurança jurídica às empresas operadoras. Entretanto, sem a responsabilidade pelos investimentos necessários à produção dos serviços fica difícil justificar a contratação das empresas privadas, como concessionárias da exploração dos serviços de transporte.
De qualquer forma, é importante ressaltar que existe uma diferença enorme entre um contrato de concessão para a execução de um serviço público, que exige experiência comprovada, capacidade de investimento e competência administrativa, funcionando o contratado como um longa manus do poder concedente, e um contrato de prestação de serviços que, no caso em tela, não passaria de um instrumento de gestão de pessoal, com a manutenção básica da frota, para o simples cumprimento de “ordens de serviço” emanadas do poder público.
Imagem – Revista AutoBus e divulgação


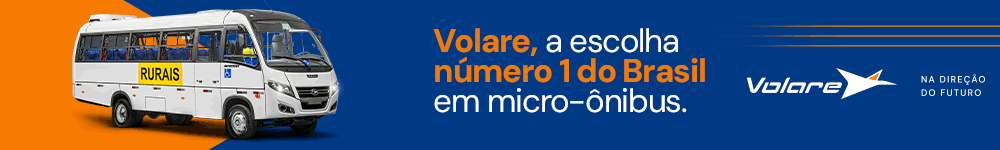









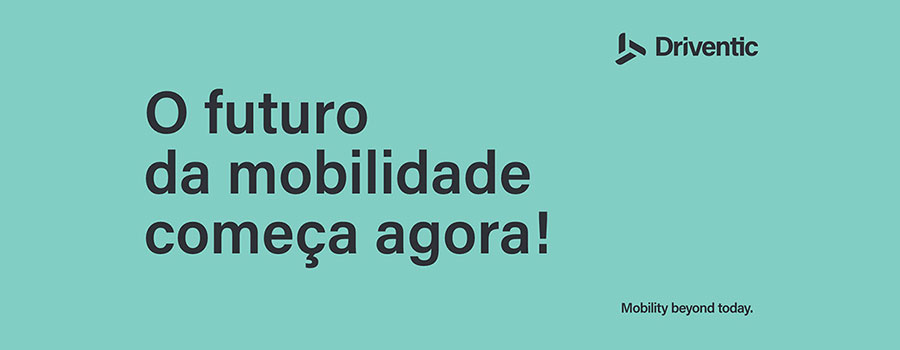
0 comentários